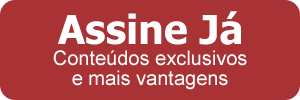Todas as pessoas – ou quase todas – têm um bicho de estimação: gato, cachorro, passarinho e por aí afora. Tem gente que tem até tartaruguinhas. Quase todas as pessoas... Mas eu nunca gostei. Sempre digo que dá trabalho, que não compensa, coisas do tipo. Não é que eu não tenha compaixão dos bichinhos, que não tenha simpatia por eles. Na verdade, até há pouco tempo eu mesmo não entendia a razão. Hoje sei o motivo. E ele se deu lá pelos meus dez, doze anos... Vou contar:
Meu pai era carpinteiro, fazia pequenos móveis numa pequena área nos fundos de nossa casa. Tudo muito pobre, tudo muito difícil. Aquela rude moradia era o que havia ficado de toda uma vida de trabalho na roça, mexendo com gado, com cavalos, erguendo cercas de arame, aprumando lascas de madeira no feitio de mangueiros e currais. Era o legado do pobre homem, além dos nove filhos. Eu estudava. Aprendi logo a ler e escrever. Era uma missão; um desejo do velho que eu deveria atender. Num momento ou outro – quando me enjoava dos livros – gostava de ficar ali na área, sentado em um tamborete, vendo-o trabalhar. Aliás, tamborete era o que ele mais fazia. Cortava, serrava, pregava, lixava, espalhava verniz e cobria de couro o assento. Era bom ver o seu capricho, a sua paciência. Depois de pronto, o pequeno móvel era trocado por uma ninharia. Mal dava para comprar um saquinho de arroz.
Mas, e os bichos de estimação? Eu falava sobre eles... Meu pai tinha um: um periquito, desses pequeninos, conhecidos como cabeça-de-coco. Contrastando com o verde do resto do corpo, as penas que cobriam a cabeça eram todas alaranjadas, de uma beleza sem igual - ainda existem deles por aí em algum lugar. Uma das asinhas era cortada, para que não voasse. Assim o bichinho ficava de castigo numa haste de madeira presa na parede da área. Fora trazido ainda filhote e cresceu ali, longe do seu verdadeiro mundo. O amor que daria à sua família foi dado ao dono daquela casa, sua mais frequente companhia. E meu pai correspondia, com toda a força do seu já cansado coração. No meio das madeiras, dos pregos e martelos, de uma tarefa e outra, sempre arranjava tempo para demonstrar seu carinho àquele pequeno ser. Vira e mexe lá estava ele com o passarinho no dedo, conversando, rindo, ensinando novas palavras, “catando piolho”. No chão, o periquito fazia a maior algazarra: andava pra lá e pra cá entre tocos e serragens, entre as pernas do meu pai que, sentado ou ajoelhado ao chão, construía os tamboretes. Quando o serrote era usado, o bichinho corria e segurava com o bico a ponta da ferramenta, impossibilitando a sequência do trabalho. O homem sorria, afastava-o carinhosamente e prosseguia, logo atrapalhado outra vez pelo inquieto ajudante de carpinteiro. Se alguém dizia alguma coisa, ele respondia: “Deixa o bichinho”. “Ele não incomoda”. Na verdade, sua maior alegria era ver aquela cabecinha de coco pendurada na ponta do serrote.
Certo dia, o homem colocou, em um prato, veneno granulado para matar mosquitos e, chamado lá fora, foi atender alguém. Quando voltou, o ajudante estava deitado ao chão com as perninhas esticadas. O coitado do velho disfarçava sua dor, mas dava pena vê-lo carregando pela casa aquele montinho verde de ternura repousado em suas mãos. Eu nunca me esqueci. Desde aquele dia, tive medo de ter alguma coisa de valor. Tive medo de amar tanto assim...