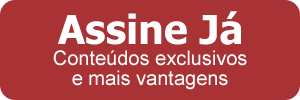Fantasmas do Passado
Estranhezas aconteciam na fazenda onde morávamos. Naquela época, sei lá, muitos anos atrás, os nacos de terra eram sempre grandes; os chamados vizinhos avizinhavam-se distantes e, talvez por isso, sabendo do abandono em que vivíamos, os habitantes sobrenaturais aproveitavam-se para brincar com a gente. Vez ou outra aparecia alguém contando um fato, um assombro. Havia aumentos, talvez invenções; mas havia, sim, os fantasmas. Não, não os vi; fantasma não se vê, mas a gente sente quando está por perto.
Havia um grito que morava num capão de mato e, quando de lá saía, parecia penetrar em todos os cantos daquela nossa solidão. Nos dias quentes, era pior; aquele lamento chegava aos ouvidos, acompanhado de um arrepio que juntava a pele nas costas com tanta força que eu pensava fosse rasgar na altura dos ombros. Ninguém ia lá ver; os que foram, conta-se, não voltaram.
À noite, não é invenção, nosso sono era interrompido por passos dentro da casa. Da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, até chegarem ao lado da cama da gente. Eu imaginava a cara feia do dono deles: dois chifres tortos, orelhas grandes, olhos disformes e esbugalhados e duas presas forçando os lábios inferiores. Nunca retirei a coberta da cabeça para ver. Medo e sono se debatiam, até o sono vencer pelo cansaço.
E tinha mais. Lembro-me muito bem. Certa vez, minha irmã e eu ultrapassamos a horta, na costumeira tarefa de buscar cebolas para o jantar, e descemos a ladeira até ao córrego. As pedras, no leito, faziam a água mudar o curso e se juntar um pouco mais à frente. Nas duas margens os galhos das árvores pendiam e abraçavam-se demoradamente. Um belo cenário irresistível a toda criança. Ao pular de uma pedra a outra, minha irmã escorregou-se e caiu, molhando os pés. Nesse instante uma risada fantasmagórica ecoou sobre as águas. Não há como mensurar o medo que sentimos. Juntamos, ali, nossos poucos anos e subimos com dificuldade a ladeira, rasgamos a horta no peito e chegamos ofegantes à porta da casa. A cebola não veio.
Papai não tinha medo. Saía e chegava em casa a qualquer hora da noite. Parecia que os fantasmas o respeitavam. Não me esqueço. Ele passava a cavalo pela estrada da velha gameleira, que diziam assombrada, sacava o revólver e atirava no tronco dela. A árvore vivia chorando leite. Acho que era um aviso do velho aos diabos que viviam ali e que à noite faziam suas festas.
É o tempo passou. Nunca mais voltei por lá. Aqui na cidade, no entanto, luto com um fantasma dos que lá existiam e que me acompanhou: a saudade. Não, nunca a vi; saudade não se vê, mas a gente sente quando está por perto.